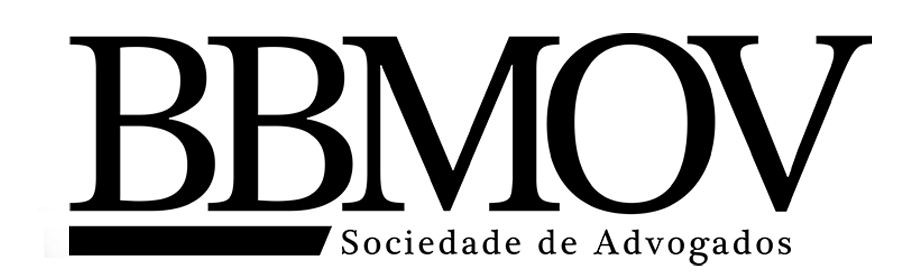19/02/2026
Tokenização de ativos no Brasil: inovação financeira, desafios jurídicos e o papel do Direito na economia digital
Por: Guilherme Felipe Pereira
Nos últimos anos, imóveis, recebíveis, títulos de crédito e até participações societárias passaram a ser fracionados e negociados por meio de tokens digitais registrados em blockchain. Operações que antes exigiam cartórios, bancos e sistemas centralizados podem hoje circular em minutos por meio de registros distribuídos, com maior transparência e rastreabilidade. Mas isso significa que o Direito ficou para trás — ou apenas mudou de forma?
A tokenização de ativos representa uma das transformações mais relevantes da economia digital contemporânea. No Brasil, esse mercado cresce de maneira consistente e já movimenta volumes expressivos de negociação. Contudo, não se trata apenas de uma inovação tecnológica ou financeira isolada. Trata-se de uma mudança estrutural na infraestrutura econômica e jurídica que sustenta a circulação de direitos patrimoniais. A tokenização não rompe com o Direito tradicional; ao contrário, tensiona seus limites e exige uma leitura mais sofisticada sobre propriedade, circulação de ativos, responsabilidade e proteção dos investidores.
Para compreender o fenômeno, é essencial definir com precisão o que é tokenização. Trata-se do processo pelo qual um bem, crédito ou direito patrimonial existente no mundo físico ou jurídico é representado digitalmente por meio de um token registrado em blockchain. Não se cria um novo ativo econômico; cria-se uma representação digital rastreável e negociável de um direito preexistente, vinculando o ativo “fora da rede” (off-chain) a um registro “dentro da rede” (on-chain). O token funciona, nesse sentido, como um certificado digital de titularidade inscrito em um livro-razão distribuído, no qual cada transferência fica registrada de forma permanente e verificável por múltiplos participantes da rede.
Essa infraestrutura técnica difere dos modelos tradicionais de registro de propriedade, baseados em sistemas centralizados controlados por bancos, cartórios ou instituições financeiras. Na blockchain, o registro é descentralizado e protegido por mecanismos criptográficos, o que reduz custos de reconciliação, acelera liquidações e permite auditoria independente das transações. Contudo, essa eficiência tecnológica não elimina — e nem poderia eliminar — a necessidade de um arcabouço jurídico robusto. Pelo contrário, quanto mais relevante economicamente se torna a tecnologia, mais essencial é a presença do Direito para conferir segurança, previsibilidade e responsabilização adequada dos agentes envolvidos.
Um ponto frequentemente mal compreendido no debate público é a relação entre blockchain, rastreabilidade e anonimato. Do ponto de vista técnico, a blockchain é plenamente rastreável quanto às transações: qualquer pessoa pode acompanhar o histórico de movimentação de um token entre endereços digitais, pois o registro é público e imutável. O que a blockchain não revela automaticamente é a identidade civil do titular de cada endereço. Por isso se diz que a rede é pseudônima, e não propriamente anônima: ela identifica carteiras digitais, mas não associa essas carteiras diretamente a pessoas físicas ou jurídicas sem informações externas adicionais.
Essa característica explica por que algumas pessoas utilizam criptomoedas em atividades ilícitas, mas não significa que tais operações sejam invisíveis ou irrecuperáveis do ponto de vista forense. Em ambientes regulados como exchanges e plataformas de negociação normalmente há exigências de identificação do cliente (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro (AML), permitindo vincular endereços digitais a usuários identificáveis mediante cooperação institucional e análise técnica especializada.
No contexto da tokenização de ativos vinculados ao mundo real, essa pseudonimidade tende a ser ainda mais limitada. Tokens lastreados em recebíveis, títulos financeiros, direitos imobiliários ou participações societárias são emitidos por entidades identificáveis e, em regra, negociados em plataformas que exigem cadastro e identificação dos investidores. Nesse ambiente, a rastreabilidade da blockchain passa a funcionar como instrumento de transparência e auditoria, e não como mecanismo de ocultação.
Do ponto de vista jurídico, é fundamental destacar que a tokenização não altera a natureza do ativo subjacente. Se o token representa um crédito, ele continua sendo um crédito; se representa uma cota societária, permanece sendo participação societária; se representa um recebível, segue sendo direito creditório. O que se modifica é a forma de registro, fracionamento e circulação desse direito, que passa a ocorrer em ambiente digital estruturado por contratos inteligentes e plataformas especializadas. A inovação é, portanto, essencialmente infraestrutural e operacional, e não uma ruptura com institutos clássicos do Direito Civil, Empresarial e do Mercado de Capitais.
No Brasil, não há uma “lei geral da tokenização”, mas isso não significa ausência de regulação. A disciplina jurídica decorre da aplicação das normas já existentes conforme a natureza econômica do ativo representado.
Ainda que não exista diploma legal específico disciplinando a tokenização de ativos do mundo real, o ordenamento brasileiro passou a estruturar o ecossistema dos ativos digitais por meio da Lei nº 14.478/2022, que estabelece diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e atribui competência regulatória ao Banco Central do Brasil. A norma define ativo virtual como representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para fins de pagamento ou investimento, ressalvando expressamente, em seu art. 2º, § único, os ativos que já se enquadrem como valores mobiliários, os quais permanecem submetidos ao regime jurídico próprio do mercado de capitais.
Sempre que o token incorporar características típicas de investimento coletivo — expectativa de retorno financeiro e dependência do esforço de terceiros — ele tende a ser qualificado como valor mobiliário, submetendo-se ao regime da Lei nº 6.385/1976 e à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na prática, isso implica que muitas emissões de tokens lastreados em recebíveis, dívidas ou projetos produtivos devem observar regras de oferta pública, deveres de informação, padrões de governança e mecanismos de proteção ao investidor.
O mercado brasileiro tem recorrido à tokenização sobretudo para os chamados Real-World Assets (RWAs), como recebíveis comerciais, títulos de crédito, cotas de fundos, direitos sobre imóveis e ativos financeiros estruturados. Em vez de emitir um título tradicional em papel ou em sistema centralizado, o emissor converte esse direito em frações digitais negociáveis, ampliando o acesso de investidores e criando novas possibilidades de liquidez. Essa lógica altera — ou ao menos tensiona — três pilares tradicionais do mercado financeiro.
O primeiro pilar é a intermediação. Historicamente, bancos e registradoras concentravam funções de custódia, liquidação e controle de propriedade. Com a tokenização, parte dessas atividades migra para infraestruturas tecnológicas distribuídas, que operam em tempo quase real e com menor fricção operacional. Isso não elimina intermediários, mas os redefine: surgem custodiante digitais, plataformas de negociação e agentes especializados em segurança criptográfica e gestão de chaves privadas.
O segundo pilar é a democratização do investimento. O fracionamento por tokens permite que investidores de menor porte participem de operações antes restritas a grandes instituições. Um empreendimento imobiliário, por exemplo, pode ser dividido em milhares de frações digitais negociáveis, ampliando a base de investidores e diversificando riscos. Contudo, essa abertura do mercado exige maior transparência, educação financeira e supervisão regulatória para mitigar riscos de fraude, manipulação e assimetria informacional.
O terceiro pilar diz respeito à governança e responsabilidade. Em um ambiente em que a titularidade do ativo está vinculada ao controle de chaves criptográficas, surge um debate jurídico relevante: quem responde em caso de perda de acesso, ataque cibernético, erro em contrato inteligente ou falha operacional? A resposta não é simples e demanda arranjos contratuais claros entre emissores, plataformas e custodiante digitais, além de políticas de gestão de risco tecnológico e, em muitos casos, cobertura securitária específica.
Um ponto crítico para a segurança jurídica da tokenização é a vinculação entre o token e o ativo real. Para que a operação seja válida e eficaz, deve existir um instrumento jurídico claro — contrato, cessão de crédito, escritura pública, registro ou outro título formalmente adequado — que assegure que o detentor do token possui efetivamente o direito sobre o ativo subjacente. Sem essa ponte jurídica, o token se reduz a um mero registro digital sem força patrimonial, o que fragiliza investidores e compromete a credibilidade do mercado.
Diante desse cenário, três questões jurídicas tornam-se estratégicas. A primeira é a correta classificação do token, para definir quando ele configura valor mobiliário e exige observância às normas do mercado de capitais. A segunda envolve a custódia digital e a proteção das chaves privadas, elemento central para a segurança patrimonial dos investidores. A terceira diz respeito à responsabilidade civil e regulatória em casos de falha tecnológica, fraude ou descumprimento de deveres informacionais.
Em síntese, a tokenização de ativos no Brasil representa uma modernização profunda da infraestrutura de registro e circulação de direitos, e não uma ruptura com o ordenamento jurídico existente. Trata-se de uma convergência entre tecnologia blockchain e institutos tradicionais do Direito, que exige interpretação integrada e equilibrada. O desafio contemporâneo é permitir que o país aproveite os benefícios dessa inovação como maior liquidez, eficiência operacional e acesso ao investimento sem comprometer a proteção dos investidores, a estabilidade financeira e a responsabilidade jurídica dos agentes econômicos.
O desenvolvimento futuro desse mercado dependerá menos da tecnologia em si e mais da capacidade do Direito de acompanhá-la, estabelecendo regras claras, previsíveis e proporcionais que incentivem a inovação sem abrir mão da segurança jurídica. Nesse sentido, o papel dos juristas, reguladores e operadores do mercado será decisivo para moldar uma economia digital que seja ao mesmo tempo dinâmica, inclusiva e responsável.